Processo: 0720180
Processo: 4853/2003-6
"A capacidade inicial seria dar resposta de 8.000 milhões de euros. No dia um [de uma catástrofe sísmica} o setor segurador poderia dar resposta a uma recuperação de habitações no valor de 8.000 milhões de euros e se a catástrofe for de 9.000 milhões de euros o Estado poria os restantes 1.000 milhões de euros", explicou o presidente da APS, José Galamba de Oliveira.
"No modelo que aqui está, na medida em que é de cobertura obrigatória tem de haver resposta social", afirmou.
Muito se fala actualmente na habitação e no direito à habitação. De facto, em Portugal a habitação é um direito constitucional consagrado no art. 65º e a própria Lei de Bases da Habitação, aprovada em Setembro de 2019, considera que o Estado é o garante deste direito.
Vale a pena transcrever o texto constitucional, que, no essencial, mantém a dimensão e profundidade consagradas aquando da sua aprovação originária em 1976:
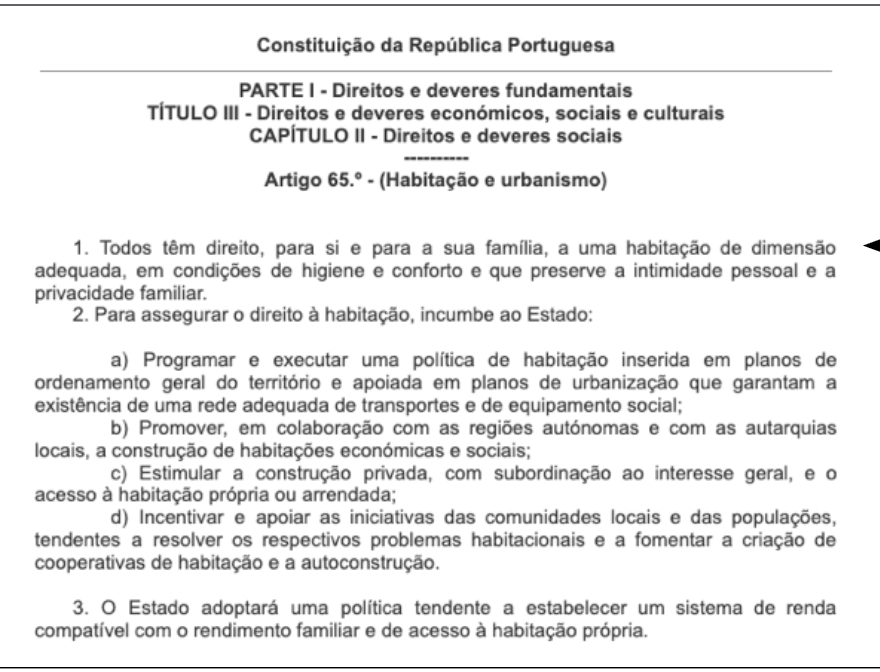
Como facilmente se pode constatar existe um enquadramento complexo (de base económica , social e cultural) e uma linha de rumo definida, que se designa por estimular “o acesso à habitação própria ou arrendada”. No entanto, quando se abordam estes temas o foco é sempre em torno da habitação associada a propriedade plena de um imóvel ou a habitação por via de contrato de arrendamento. Mas serão só estas as figuras às quais deve estar associado o direito à habitação?
Partindo de uma análise dos vários direitos que podem integrar o direito de gozo de um imóvel, temos, desde logo, os direitos base inerentes aos direitos reais de propriedade, entre os quais o natural direito de propriedade plena de um imóvel. Mas temos também o direito de superfície sobre o mesmo e o direito de usufruto.
Mas serão apenas esses no nosso ordenamento jurídico? A resposta é claramente negativa. Existem outras formas legais de que nos podemos socorrer para sustentar um direito sobre determinado imóvel.
Temos, desde logo, o direito de uso e habitação, previsto no art. 1484º do CC. O direito de uso traduz-se na faculdade de se servir de certa coisa alheia e haver os respectivos frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua família” e nos casos em que incide sobre a casa de morada de família, designa-se direito de habitação. Este não se confunde com o direito de usufruto supra referido na medida em que os direitos de uso e habitação não atribuem um direito de gozo pleno sobre a coisa, como nos casos do usufruto, ou seja, por exemplo, quando este incide sobre uma casa o seu beneficiário não pode arrendar pois o uso não engloba os frutos civis, apenas confere o direito de habitar não podendo transmitir, dispor, alienar ou onerar esse direito.
Existe, ainda, todo um conjunto de direitos, configurados em diferentes diplomas que têm, ainda assim, associado um direito de habitação de imóveis, ainda que com especificidades próprias, mas que nos mostram que direito a habitação não se cinge a propriedade plena e arrendamento:Direito Real de Habitação Períódica (DRHP), previsto no DL 275/93, de 05/08 – este é um direito que incide sobre unidades de alojamento integradas em empreendimentos turísticos, que permite a “habitação” dessas mesmas unidades durante determinado período do ano
Direito Real de Habitação Duradoura (DHD), previsto no DL 1/2020, de 09/01 – este traduz-se, essencialmente, num direito permanente e vitalício de residir numa habitação alheia, mediante o pagamento ao proprietário de uma caução inicial e de uma prestação mensal acordada entre as partes.
Locatário financeiro (de bem imóvel), previsto no DL 149/95, de 24/06 – neste caso existe um contrato através do qual, mediante remuneração, uma parte cede a outra o gozo temporário de um bem imóvel, o qual pode ser comprado pelo locatário decorrido o período acordado para o efeito. Esta operação tem intrínseca uma modalidade de financiamento a médio ou longo prazo, onde o locador irá disponibilizar um bem ao locatário, sendo que este pagará uma renda, com opção de compra ou não no final.
Arrendamento habitacional, previsto no art. 1092º e ss do CC e na Lei 6/2006, de 27/02 (NRAU) – trata-se de um contrato pelo qual uma das partes (senhorio) se obriga a proporcionar à outra (inquilino ou arrendatário) o gozo temporário de uma coisa imóvel, mediante prestação pecuniária periódica (renda). O arrendamento é urbano se referente a um prédio urbano e pode ter fim habitacional ou não habitacional.
Direito de habitação não permanente ou para fins transitórios, previsto no art. 1095º/3 do CC – em regra os contratos de arrendamento para habitação têm a duração mínima de um ano, estando excepcionados os casos em que o locado se destine a habitação não permanente ou para fins especiais transitórios. Alguns desses fins especiais transitórios, poderão ser motivos profissionais, de educação e formação ou turísticos.
Direito de “turista residencial” em empreendimento turístico constituído em propriedade plural, previsto no DL 39/2008, de 07/03 – nos empreendimentos turísticos constituídos em propriedade plural podem existir vários proprietários de unidades de alojamento do mesmo e nessa mesma qualidade podem arrogar-se o direito de “residir” nessas unidades o ano inteiro, ainda que sujeitos às contingências da exploração turística do empreendimento e aos custos à mesma associados.
Direito de “ocupante” de estabelecimento de Alojamento Local, previsto no DL 128/2014, de 29/08 – tem inerente serviços de alojamento temporário mediante remuneração, permitindo “habitar” determinado imóvel durante um período de tempo determinado.
Direito de habitação colaborativa, referido na Lei n.º 83/2019 de 03/09 (Lei de Bases da Habitação) e Portaria 269/2023, de 28/08 - trata-se de uma solução de natureza habitacional que se organiza em contexto de comunidade, ou seja, é uma “resposta social de carácter residencial, temporária e ou permanente, que assenta num modelo de habitação colaborativa e comunitária, organizada em unidades habitacionais independentes, próximas ou contíguas, de apartamentos, moradias ou outra tipologia de habitação similar, e que dispõe de áreas e espaços de utilização comum, compartilhada, bem como de serviços de apoio partilhados e subsidiários, promotores de interacção social, inter-geracionalidade e inclusão social dos seus residentes”.
Enquanto todas estas tipologias que supra-referimos têm previsão e enquadramento legal, existem, no entanto, outras figuras que, ainda que sem um enquadramento legal especifico, não deixam de ser uma realidade e que, como tal, é importante abordar. Faz sentido referir as seguintes situações:Direito de habitação por indicação de empresa arrendatária – o vulgo designado arrendamento corporativo – coexiste um contrato de arrendamento, cujo arrendatário será uma empresa, ficando esta com a prerrogativa de indicar terceiros, colaboradores da mesma, para residirem nesse mesmo imóvel. No entanto, esses colaboradores não constam do contrato de arrendamento, ainda que sendo aqueles que efectivamente vão ocupar o imóvel para efeitos de habitação.
Direito a alojamento na prestação de serviços – enquadra-se aqui, por exemplo, o regime dos contratos de habitação de porteiros ou os ditos caseiros. Estas entidades prestam serviços no âmbito de uma relação laboral com características próprias, entre as quais o fornecimento de alojamento pela entidade empregadora.
Direito de hospedagem familiar – este pode-se configurar como um contrato atípico misto, que irá integrar prestações dos contratos de locação e de prestação de serviços. Trata-se de contratos de arrendamento para habitação, na qual reside quer o arrendatário quer um máximo de 3 hóspedes deste, comprometendo-se o arrendatário a proporcionar habitação aos mesmos a a prestar serviços, mediante pagamento de uma determinada retribuição.Apesar da sua distinção, a verdade é que existem elementos base essenciais que acabam por ser inerentes a todos eles, tais como:
Mas embora todos estes contratos possam prever estes aspectos, a verdade é que a parametrização de cada um deles é diferente de contrato para contrato.
A realidade mostra-nos que, de facto, o acesso a um imóvel indispensável à satisfação da necessidade básica de habitação permanente, que a Lei de Bases da Habitação (LBH) designa como “a utilizada como residência habitual e permanente pelos indivíduos, famílias e unidades de convivência” pode revestir várias e diferentes formas.
Importa, no entanto, avaliar em que medidas cada uma dessas formas é tratada, nomeadamente no que respeita aos instrumentos para remover os incumprimentos contratuais ou ocupações ilegais.
A LBH refere no seu art. 13º (Protecção e acompanhamento no despejo), que:
1 – Considera-se despejo o procedimento de iniciativa privada ou pública para promover a desocupação forçada de habitações indevida ou ilegalmente ocupadas”
Mas o que aconteceu na realidade? Olhemos, por exemplo, para os mecanismos legais para desocupação coerciva de um imóvel em arrendamento habitacional (como seja o caso do recurso ao BAS – balcão do arrendatário e senhorio), o qual, pela forma como está previsto e configurado pelo legislador não será de aplicação a nenhuma destas outras figuras aqui abordadas.
Ou seja, depois de outras novidades, como o arrendamento forçado pelo Estado, o legislador só pretendeu regular no plano processual o incumprimento das “relações de arrendamento”, em sentido restrito, sem atender à realidade decorrente do exercício do direito a habitar (residir ou ocupar) um imóvel, sem estar em causa um contrato de arrendamento celebrado entre particulares.
A celeridade e segurança do procedimento de despejo (desocupação coerciva de um imóvel), promovido por privados ou entidades públicas, deveria ser assegurada e respeitar um normativo processual comum, para fomentar a credibilidade indispensável ao cumprimento dos contratos e, em consequência, reduzir o risco dessas relações contratuais (valor da contrapartida de habitar um imóvel).
Na LBH foram consagradas as bases para um direito processual em matéria de Habitação (em sentido amplo), comum a todas as situações de desocupação de imóveis “habitacionais”, com fundamento em “ocupações indevidas ou ilegítimas”.
Também deveria o Legislador regular a execução judicial de outros contratos, assegurando uma tramitação célere e credível, assim como as garantias para as famílias despejadas dos imóveis, próprios ou arrendados, quando estiverem nas condições previstas na LBH.
Com efeito, e não obstante a LBH vir impor o dever de regulamentação em matérias especificas (veja-se o já referido art. 13º e o art. 67º, por exemplo), a verdade é que a mesma ficou aquém do que seria expectável e devido.
Nessa medida, seria adequado e legalmente fundamentado (tendo por base a LBH) que o quadro da locação previsto no CC fosse, de facto, aplicado aos restantes contratos de “gozo de imóveis para residência/habitação” a título de regime supletivo que fosse, na medida em que estarão em causa similares direitos à habitação.